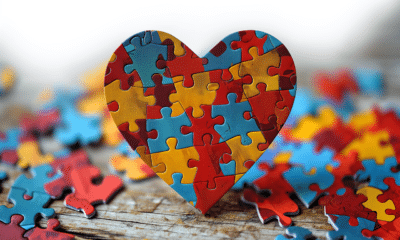Coluna Vitor Vogas
“Ainda estou aqui”: Benjamin, Trump, Bolsonaro, a bomba e o punhal
O que os elementos do título têm a ver entre si? Tudo! É o que tratamos de expor nesta análise um pouco diferente, com algumas pitadas literárias, historiográficas, filosóficas e de reflexões sobre a literatura (e o cinema, e a arte em geral) como forma de resistência

(Devido à posse de Trump e ao anúncio das indicações para o Oscar, republicamos este artigo originalmente publicado no fim de novembro. Boa leitura!)
> Quer receber as principais notícias do ES360 no WhatsApp? Clique aqui e entre na nossa comunidade!
“A quem, é o que pergunto, quem se interessaria hoje por tão mesquinhos meandros de um tempo distante, e a resposta que meu pai repete é uma absurda mescla de devaneio e lucidez: as ditaduras podem voltar, você deveria saber”.
Tal é o ensinamento do pai para o filho, Sebastián, narrador do romance A resistência, de Julián Fuks, vencedor do prêmio Jabuti em 2016 [1]. E então esse filho que se narra compartilha suas reflexões conosco: “As ditaduras podem voltar, eu sei, e sei que seus arbítrios, suas opressões, seus sofrimentos, existem das mais diversas maneiras, nos mais diversos regimes, mesmo quando uma horda de cidadãos marcha às urnas bienalmente”.
Há muito mais “lucidez” que “devaneio” na lição desse sábio pai, psiquiatra exilado da ditadura civil-militar argentina (1976-1983) no romance de Fuks, e também nas reflexões do filho. Provam-no os últimos nove anos, passados desde 2015, ano da publicação da obra e do princípio da queda da então presidente Dilma Rousseff.
Emblemático título da narrativa de autoficção de Fuks, resistência é justamente um dos papéis cumpridos, de maneira inigualável, pela arte – a literatura, o cinema e suas mais diversas formas. Resistência, por exemplo, à violência em suas múltiplas dimensões: física, sexual, psicológica, política, econômica, simbólica. A pior de todas é aquela praticada pelo próprio Estado contra seus cidadãos, uma das principais características de regimes totalitários, em qualquer época e em qualquer lugar. Isso inclui a nossa própria ditadura civil-militar (1964-1985).
No último dia 10 de novembro, declarou o escritor Marcelo Rubens Paiva, em entrevista ao site Metrópoles, sobre seu livro de testemunho Ainda estou aqui, também lançado em 2015 [2]: “A literatura é o testemunho dos vencidos, e nós somos os vencidos de 1970”. O autor dessa narrativa testemunhal, que originou o filme homônimo de Walter Salles Jr., dialoga, intencionalmente ou não, com o pensamento de Walter Benjamin (1892-1940), crítico literário e filósofo da Escola de Frankfurt.
Em suas teses Sobre o conceito de história [3], um dos documentos filosóficos mais importantes do século XX, Benjamin argumenta que o passado só pode ser compreendido em momentos de perigo (e quem duvida de que estejamos diante de um momento assim anda meio distraído). Defende que os historiadores devem se identificar com os vencidos e não com os vencedores. Advoga que a história deve ser reinterpretada e recontada sob o ponto de vista não dos opressores, mas dos oprimidos – donde sua revolucionária concepção de História.
Vale a pena citar aqui, muito sinteticamente, excertos de algumas teses capitais desse pensador radicalmente antifascista a seu tempo. As teses de Benjamin, notem bem, foram escritas na “meia-noite do século XX” (como diria Victor Serge), no início de 1940, pouco antes de o autor, alemão e judeu, cometer suicídio em sua malsinada fuga da França ocupada por tropas nazistas [4] (ao ser interceptado pela polícia franquista na fronteira com a Espanha) e meses antes de o Terceiro Reich pôr em marcha a Solução Final: o genocídio de judeus e ciganos nos campos de concentração e extermínio, verdadeiras “fábricas da morte”, como escreveu Primo Levi (1919-1987).
Para Benjamin, como lemos na oitava tese, “a tradição dos oprimidos nos ensina que a regra é o ‘estado de exceção’, no qual estamos vivendo” (isto é, no qual se vivia na Alemanha nazista e na Europa nos anos 1930, em plena expansão do Terceiro Reich). A regra, acrescento, segue valendo.
Já na sexta tese, Benjamin nos adverte que “nem os mortos estarão em segurança se o inimigo vencer. E esse inimigo não tem cessado de vencer”. Por isso, alerta-nos o pensador alemão, a luta deve ser incessante; a resistência deve ser tão perene quanto o é a ameaça de incêndio.
Para além da marcha triunfante dos dominadores na História, impossível não relacionarmos o fragmento com a história dos desaparecidos políticos nas ditaduras civil-militares da América do Sul entre os anos 1960 e os 1980; ditaduras que matavam suas vítimas e matavam a morte de suas vítimas, vitimando duplamente tanto os homens e mulheres assassinados como os entes queridos que ficavam, por privá-los do direito ao luto e por falsear ou simplesmente apagar a história desses mortos.
Em Walter Benjamin: aviso de incêndio [5], o professor Michael Löwy, um dos mais lúcidos leitores de Benjamin, interpreta assim o excerto: “O historiador revolucionário sabe que a vitória do inimigo atual ameaça até os mortos […] pela falsificação ou pelo esquecimento dos seus combates. […] Do ponto de vista dos oprimidos, o passado não é uma acumulação gradual de conquistas, como na historiografia ‘progressista’, mas sobretudo uma série interminável de derrotas catastróficas”.
Por fim, quero citar a incontornável alegoria da nona tese, na qual Benjamin descreve o seu Anjo da História: “Sua face se volta para o passado. Lá onde nós vemos surgir uma sequência de eventos, ele vê uma catástrofe única, que incessantemente empilha escombros sobre escombros e os lança a seus pés”. O anjo benjaminiano é impelido para o futuro pela “tempestade do progresso”, por mais que quisesse “se demorar, despertar os mortos e reunir de novo o que foi esmagado”. A história da humanidade, em síntese, é a história da barbárie humana.
Para Löwy, “[…] em um certo sentido, toda a obra de Benjamin pode ser considerada como uma espécie de ‘aviso de incêndio’ dirigido a seus contemporâneos, um sino que repica e busca chamar a atenção sobre os perigos iminentes que os ameaçam, sobre as novas catástrofes que se perfilam no horizonte”. Esse aviso, vale dizer, foi dado antes de Auschwitz e de Hiroshima, como a dizer a seus contemporâneos: “Atenção, isso pode acontecer”.
O alerta de Benjamin se confirmou imediatamente, em proporções catastróficas até então inimagináveis, nos meses seguintes à sua morte. Na literatura, uma das primeiras “confirmações” do estado de barbárie a que a humanidade conseguiu chegar veio da obra seminal de Primo Levi, É isto um homem? (Se questo è un uomo) [6], narrativa testemunhal desse “sobrevivente fortuito” do Holocausto, iniciada – ao menos na concepção – em 1944, quando ele ainda estava em Auschwitz, escrita em 1946 e lançada em 1947, pouco tempo após ele ser libertado e repatriado a Turim, sua cidade natal, no noroeste da Itália, tamanha era a urgência que tinha em levar ao mundo o relato do que o homem fora capaz de fazer contra o homem.
Nas décadas seguintes, É isto um homem? converteu-se em um clássico da literatura de testemunho em geral e, em particular, do extermínio dos judeus pelos nazistas, em escala e com rigor industrial – tanto pela pungência do relato, ao mesmo tempo belamente escrito, como pela profundidade das reflexões lançadas pelo autor. Levi foi outro “profeta”. Eis as palavras premonitórias desse grande escritor piemontês, gravadas já no prefácio/presságio de É isto um homem?:
“Muitos, pessoas ou povos, podem chegar a pensar, conscientemente ou não, que ‘cada estrangeiro é um inimigo’. Em geral, essa convicção jaz no fundo das almas como uma infecção latente; manifesta-se apenas em ações esporádicas e não coordenadas; não fica na origem de um sistema de pensamento. Quando isso acontece, porém, quando o dogma não enunciado se torna premissa maior de um silogismo, então, como último elo da corrente, está o Campo de Extermínio. Este é o produto de uma concepção de mundo levada às suas últimas consequências com uma lógica rigorosa. Enquanto a concepção subsistir, suas consequências nos ameaçam. A história dos campos de extermínio deveria ser compreendida por todos como sinistro sinal de perigo” (grifos meus).
Em seu “aviso de incêndio” (Löwy), às vésperas de Auschwitz e sem poder saber de sua iminência, Benjamin estava como a advertir: “Atenção, isso pode acontecer”. Levi, em 1946, tendo passado por Auschwitz e sobrevivido ao campo de extermínio, estava como a alertar: “Atenção, isso pôde acontecer. E, ora, se pôde acontecer nessa Europa tão civilizada, pode perfeitamente se repetir a qualquer tempo e em qualquer parte”. Levi sofreu e levou Auschwitz na pele (a tatuagem no antebraço com seu número de entrada no Lager) até ele mesmo se suicidar, 47 anos depois de Benjamin. Os respectivos textos se separam pelos seis anos que compreendem, justamente, Auschwitz, o auge da Segunda Grande Guerra, o ápice da barbárie.
Mas a “catástrofe única” segue empilhando escombros sobre escombros e lançando-os aos pés do Anjo da História. Tivemos aqui o AI-5. Tivemos centenas de mortos e desaparecidos; milhares de torturados, todos pelo Estado brasileiro. Se quiséssemos recuar aos eventos rememorados na semana passada, no Dia da Consciência Negra, poderíamos nos lembrar da escravização africana e afro-brasileira, como efeito da lógica e da dinâmica colonial, e seus efeitos degradantes que se estendem ao presente, por exemplo, por meio da violência contra a juventude negra.
A regra é o estado de exceção. Auschwitz e Hiroshima são os maiores símbolos da barbárie no século das catástrofes, mas poderíamos perguntar: o que foi, senão nova expressão da barbárie, a gestão da pandemia do novo coronavírus no Brasil e nossos mais de 700 mil mortos, a partir da criminosa combinação de indolência, irresponsabilidade e negacionismo por parte do governo central? O aviso segue atual. O incêndio segue queimando.
É preciso colocar em tela – literalmente – o recrudescimento do autoritarismo de extrema-direita no Brasil atual (o que se convencionou denominar “bolsonarismo”, por encontrar no ex-presidente sua mais bem-acabada expressão). Impera refletir sobre a reemergência de um “sistema de pensamento” fundado na barbárie, que ganhou eco nas ditaduras do Cone Sul nos anos 1970 e que, em algumas de suas facetas, filia-se àquela concepção de mundo à qual Benjamin se opôs intelectualmente e de cuja mais perversa expressão prática o filósofo em vão tentou escapar.
Estão aí, para quem quiser ver, as conexões ideológicas entre regimes ou movimentos políticos de extrema-direita em diferentes momentos da História, cujo sistema de pensamento parte de uma mesma matriz: o autoproclamado e autolegitimado direito de aniquilar o outro, alicerçado no que Levi definiu como a “doutrina do desprezo”, bem como uma manifesta ojeriza à democracia.
Impõe-se examinar a renovação da extrema-direita em nosso país e os efeitos desse fenômeno político, pois tal mentalidade, ou “sistema de pensamento”, ainda está aqui… e não pretende ir embora.
O deputado cassado Rubens Paiva, cujo corpo jamais foi encontrado, ainda está aqui e se faz presente, contra toda a política de desmemória praticada com afinco até hoje pelos que se empenham em matar duas vezes as vítimas da ditadura. Resistem ao que o jornalista e escritor Bernardo Kucinski, em K: relato de uma busca [7], definiu como o “mal de Alzheimer nacional” e aos que cultivam tal “enfermidade” no imaginário coletivo brasileiro.
Mas assim também estão os que mataram Rubens Paiva. Vivem e se fazem presentes por intermédio dos que os glorificam, dos que aplaudem os seus crimes ou, pior, juntam suas palmas à guisa de limpá-las após terem terminado o serviço, em gesto de “missão cumprida”.
Essa concepção de mundo perpetua-se no transcurso da História e, nos solavancos dados por ela, está sempre ali, à espreita, de prontidão para atacar de novo. Como escreveu o poeta e pesquisador Alberto Pucheu em sua coletânea de poemas de presos políticos brasileiros, escritos nos anos 1970 [8], “um espectro ronda o Brasil”. Sempre pronto a pregar novos sustos, esse fantasma é o do autoritarismo, escondido nas esquinas da História. Sim, tal “sistema de pensamento” ainda está aqui… no Brasil e no mundo inteiro, a nos assombrar. É preciso estar atento e vigilante.
Ainda estão aqui
No dia 7 de novembro, entrou em cartaz comercialmente no Brasil o filme “Ainda estou aqui”, contando a história de Maria Lucrécia Eunice Facciola Paiva. Desde então, plateias do país inteiro têm chorado não com Eunice, mas por Eunice, no lugar da personagem, marcada pela intransigente contenção da própria dor, por uma autocontenção imperiosa ditada pela necessidade de se fazer forte.
Em boa hora, enfatizando o papel da arte como forma de resistência, a adaptação do testemunho de Marcelo Rubens Paiva nos lembra (ou ensina aos incautos): “Atenção: isso pôde acontecer”.
Em catarse coletiva nacional, salas lotadas têm pranteado por aquela mulher que virou ícone da luta pela verdade, com férrea obstinação e inabalável dignidade. Uma mulher que, em poético paradoxo, termina seus dias com Alzheimer e a memória pessoal comprometida, logo ela cuja vida se confunde com o inarredável compromisso na luta contra o “mal de Alzheimer nacional”, pela preservação de uma memória coletiva tão vilipendiada [9]. Uma Lucrécia que, ante a dupla morte do marido, não se matou como a da Roma Antiga; optou, antes, por lutar pela vida e celebrá-la. Uma Maria e uma Clarice Eunice que prefere não chorar no solo de um Brasil no qual não pôde enterrar o marido. Uma vítima cuja dor, tão contida, jamais explode na tela.
Seis dias depois, vejam só, movido por incontido fanatismo, um homem-bomba achou que seria uma boa ideia explodir o Supremo Tribunal Federal (STF). E literalmente explodiu a si mesmo, em nossas telas de TV e celular. Era seguidor do ex-presidente que exalta a tortura e homenageia torturadores.
Na última terça-feira (19) – eu ia dizer “estupefatos”, mas alguém ainda se surpreende? –, soubemos de mais um plano de golpe de Estado concebido entre a vitória eleitoral de Lula em 2022 e sua posse, dessa vez incluindo o assassinato do presidente eleito por agentes militares intitulados “Kids Pretos” – trama que envolveu até o candidato a vice-presidente de Bolsonaro, o terceiro Walter desta história e aquele do outro lado da História: general Walter Braga Netto.
A minuta do plano de assassinato foi impressa no Palácio do Planalto. Também concebeu-se a morte do então vice-presidente eleito, Geraldo Alckmin, e do então presidente do TSE, Alexandre de Moraes. Na última quinta (21), Bolsonaro, Braga Netto e mais 35 pessoas foram indiciadas pela Polícia Federal pelos crimes de golpe de Estado, abolição violenta do Estado Democrático de Direito e organização criminosa.
A criminosa articulação decorre da obstinação de Bolsonaro em subverter o sistema eleitoral e não acatar os resultados das urnas, princípio basilar de toda democracia, a exemplo do que fizera Donald Trump quando incitou seus adeptos mais fanatizados a invadir o Capitólio, em janeiro de 2021.
Aliás, parece-me ainda mais emblemático que Trump tenha sido eleito para voltar à Casa Branca dois dias antes de “Ainda estou aqui” entrar em circuito comercial no Brasil. Eis a principal personificação dessa concepção de mundo em nossos tempos, com sua xenofobia visceral e seu ódio escancarado ao “estrangeiro” (lembremos Levi), ao outro, ao adversário político, ao que difere de sua própria visão de mundo.
Simboliza, ainda, a corrosão da democracia, tanto lá como cá e no mundo ocidental em geral. Independentemente de cor ideológica, ditaduras têm balizas em comum: a cassação de direitos humanos e a paulatina privação de liberdades fundamentais do indivíduo, o arbítrio e a violência de Estado contra os próprios cidadãos.
Mas há, contemporaneamente, um outro fenômeno em curso: líderes populistas, sobretudo de extrema-direita, chegando ao poder por meio do regime democrático para, uma vez ali instalados, destruírem por dentro os mesmos mecanismos democráticos que lhes permitiram ali chegar. Em grande medida, Bolsonaro o ensaiou aqui. Trump o praticou em larga escala. Ninguém pôs tão em xeque a democracia num país que tanto se orgulha dela. E, a despeito disso (ou talvez por causa disso), agora está de volta, consagrado e mais forte que nunca, graças a esse sistema democrático que ele mesmo achincalhou.
Emblemática, ainda, a reação de alguns partidários da extrema-direita brasileira com a vitória de Trump, antevendo possíveis reflexos do fato no quintal político nacional. São os mesmos que, sob uma pretensa “defesa da liberdade”, exaltam e clamam pela volta de um regime cuja primeira vítima é sempre ela, a liberdade. Bolsonaro sempre o defendeu de maneira explícita e desbragada, sem o mínimo pudor, com o máximo ardor. Escancarou, assim, o paradoxo. É a face, em nosso país, desse sistema de pensamento que, de novo, sempre esteve aí, subjacente em nossa sociedade, esperando mais uma curva da História para dar um novo bote.
Sobre o AI-5, diz Marcelo Rubens Paiva em Ainda estou aqui: “É uma obra-prima da contradição. Usa a ameaça à democracia como argumento para endurecer o regime, uma aberração jurídica, incongruência em que todo regime autoritário se baseia (para defender a liberdade, precisamos acabar com ela)”. Poderíamos acrescentar: “para ‘defender a democracia’, precisamos destruí-la”.
O paradoxo é alimentado quer pela ignorância das massas de manobra (particularmente irritante, porque arrogante e orgulhosa da própria ignorância), quer pelo cinismo daqueles que as dirigem e manipulam.
Esse paradoxo sempre me perturbou imensamente, como cidadão e jornalista. Diversas vezes, em meu exercício profissional, dentro das minhas limitadas possibilidades, tratei de expor a falácia, ao observar o recrudescimento desse populismo de extrema-direita no país e a ascensão de movimentos a reivindicar, por exemplo, uma “intervenção militar” pretensamente “constitucional”, eufemismo para um golpe de Estado que, nessa mistura de cinismo, delírio e engodo, encontraria guarida na própria Constituição Cidadã de 1988, como se a lei maior em que se funda nosso regime democrático abrigasse em seu texto dispositivo gerador de sua autodestruição.
O fenômeno, é óbvio, desaguou no 8 de janeiro, resultado de A + B, ideólogos e líderes políticos insuflando seguidores nesse sentido, e muita gente predisposta a, literalmente, atentar contra a democracia e suas instituições, crendo sinceramente estarem a “lutar por uma liberdade” que a democracia, sublinhe-se o paradoxo, ter-lhes-ia sequestrado.
Agora, com o retorno triunfal de Trump (mais poderoso do que jamais esteve e, mais que nunca, aqui), essas mesmas pessoas se sentem ainda mais empoderadas e desembaraçadas para defender o que defendem. É a legitimação, pela via democrática, do autoritarismo que mina as bases dessa mesma democracia e que pode, no limite, causar sua morte. Corrijo-me: seu suicídio.
Circularmente, concluo, parafraseando o personagem de Fuks em A resistência, o pai argentino fugido da barbárie em seu país: as ditaduras podem voltar… nós deveríamos saber.
Podem voltar sob várias formas, como a de um punhal verde e amarelo no coração da democracia.
—
1. FUKS, Julián. A resistência. São Paulo: Companhia das Letras, 2015. A resistência ganhou o Prêmio Jabuti 2016 em duas categorias: Romance e Livro do Ano Ficção.
2. PAIVA, Marcelo Rubens. Ainda estou aqui. Rio de Janeiro: Alfaguara, 2015. Em 2016, Ainda estou aqui foi homenageado no Prêmio Jabuti na categoria Escolha do Leitor: Romance.
3. BENJAMIN, Walter. Sobre o conceito de história (excerto). Organização e Tradução: Adalberto Müller e Márcio Seligmann-Silva. Notas de Márcio Seligmann-Silva. São Paulo: Editora Alameda, 2000.
4. Instituída em 1940 com a rendição dos franceses, a França de Vichy duraria até 1944. Pelos termos do armistício firmado com a Alemanha de Hitler, o norte e o oeste da França foram ocupados por tropas nazistas, enquanto no sul se estabeleceu uma zona neutra. O regime de Vichy foi marcado por colaboracionismo com a Alemanha; deportação e perseguição a judeus; exaltação (quelle surprise!) à pátria e à família.
5. LÖWY, Michael. Walter Benjamin: aviso de incêndio. Uma leitura das teses “Sobre o conceito de história”. São Paulo: Boitempo, 2005.
6. LEVI, Primo. É isto um homem?. Rio de Janeiro: Rocco, 1988.
7. KUCINSKI, Bernardo. K.: relato de uma busca. São Paulo: Cosac Naify, 2014. Publicado em 2012, K é um romance autoficcional de Bernardo Kucinski, baseado na história real de Ana Rosa Kucinski, irmã do escritor. Química (como Primo Levi) e professora da USP, Ana Rosa militava clandestinamente, com seu marido, na Aliança Libertadora Nacional (ALN), organização clandestina cofundada anos antes por Carlos Marighella, após sua expulsão do Partido Comunista Brasileiro (PCB), a qual pregava a revolução por meio da luta armada. Em 1974, Ana Rosa foi sequestrada e presa por agentes da repressão. Teria sido levada para a Casa da Morte, centro clandestino de tortura na cidade de Petrópolis (RJ). Para evitar a tortura, ela teria se matado mediante a ingestão de veneno (assim como Benjamin), em sua cela. Seu corpo jamais foi localizado.
8. PUCHEU, Alberto (Org.). Poemas para exumar a história viva: um espectro ronda o Brasil. São Paulo: Cult Editora, 2021.
9. Marcelo Rubens Paiva relata que Jair Bolsonaro, como deputado federal, literalmente cuspiu no busto erguido em homenagem à memória de Rubens Paiva na Câmara dos Deputados, em Brasília (https://www.youtube.com/watch?v=1Wt70WiUJRQ), e que o então deputado do baixo clero tinha “uma fixação” pelo pai dele.